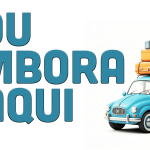Sabe a Nakata? Aquela que você confia no seu carro, agora está também na sua moto.
Suspensão, transmissão e freios com a mesma qualidade, durabilidade e segurança que há setenta anos rodam o Brasil.
Dos amortecedores aos Kits de Relação, dos discos de freio às pastilhas, a Nakata cobre os modelos mais vendidos no país.
Visite @ferasdaoficinanakata no Instagram.
Pra quem pilota com paixão, confiança não é luxo. É necessidade.
Nakata: pode contar!
Lacie Pound, protagonista de Nosedive, primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, está parada na frente do espelho. Ela não mira o próprio rosto – mira a versão do rosto que o sistema quer ver. Treina o sorriso número 3, aquele meio espontâneo, meio ensaiado. Ajusta a postura. Inclina a cabeça no ângulo exato que parece “natural”, mas custou horas de tentativa e erro.
Ela não está se olhando – está otimizando a performance. Sorriso, pausa, sobrancelha levemente arqueada. De novo. E de novo. E de novo.
Porque o mundo onde ela vive é assim: cada interação vale uma nota. Cada café pedido com simpatia rende 0,1 estrela. Cada palavra atravessada pode derrubar a sua pontuação.
Cada gesto é calculado:
– Como isso vai parecer?
– Quanto isso vai render?
– Quem estará me avaliando agora?
E você assiste aquilo com desconforto. Não porque é exagerado, mas porque é familiar demais.
E aqui entra o ponto: aquele episódio de Black Mirror de 2016, foi vendido como ficção científica distópica. Uma sátira sobre um futuro em que todos viveriam obcecados com métricas sociais, likes, estrelinhas e validação.
- Dez anos atrás.
Mas a gente fez pior, viu? Não esperamos o futuro chegar.
Hoje, antes de sair para o trabalho, tem influencer que treina o sorriso no espelho para parecer “autêntica”. Tem executivo que revisa o LinkedIn como quem revisa o currículo da alma. Tem adolescente que apaga foto se não bater engajamento nos primeiros 10 minutos. Tem adulto que não posta nada que não passe no crivo imagético do “melhor ângulo”.
A diferença é que, pra nós, ninguém avisou que era ficção. A gente já vive numa economia de estrelas, corações, views e retenção. E, assim como Lacie, começamos a moldar não apenas gestos, mas identidade, humor, opiniões, vulnerabilidades – tudo calibrado para o algoritmo.
O episódio de hoje é sobre isso: Como a tecnologia – que prometia nos conectar mais – está nos treinando a performar mais e sentir menos. Como o mundo digital virou uma vitrine onde a vida precisa caber em 5 estrelas para valer a pena. E como essa lógica está reprogramando nossa atenção, nossos vínculos e até o jeito que percebemos quem somos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Muito bem. Eu vou direto ao ponto: a tecnologia de conexão — de telégrafo a TikTok, de rádio a IA “amiga” do ouvido — não está apenas mudando o que fazemos. Ela está mexendo na maneira como pensamos, como nos relacionamos e até em como nos enxergamos a nós mesmos como pessoas.
Vamos começar vendo como o “ceticismo tecnológico” nasceu (e por que que ele importa tanto agora).
Nicholas Carr é um escritor, ensaísta e pensador norte-americano, conhecido por suas análises críticas sobre tecnologia, internet e seus impactos cognitivos, sociais e culturais. Carr não começou como profeta do apocalipse digital. Pelo contrário: passou a escrever sobre internet no auge do primeiro boom das pontocom, lá em 1999, encantado com computadores e redes. A virada veio com o estouro da bolha: gente perdendo emprego, aposentadoria indo embora, promessas de “revolução” virando pó.
Carr ganhou notoriedade mundial com seu artigo “Is Google Making Us Stupid?” publicado na The Atlantic em 2008 — um texto seminal que antecipou o debate sobre como a internet estava modificando nossa capacidade de foco e leitura profunda.
Aquele artigo se tornou a base do livro que o consagrou: The Shallows – What the Internet Is Doing to Our Brains (2010), e que inspirou este episódio.
A primeira lição de Nicholas Carr é simples e poderosa:
Quando todo mundo está empolgado demais com uma tecnologia, é hora de desconfiar dela.
Essa desconfiança não é tecnofobia. É higiene mental. Carr percebeu duas coisas:
O hype sempre esconde os efeitos colaterais.
Em 1999, só se falava em “revolução dos negócios”. Ninguém levava a sério os “aspectos sociais” da internet: fóruns, chats, comunidades. Anos depois, ficou claro que justamente essas dimensões sociais foram as mais transformadoras — e também as mais problemáticas.
A segunda coisa que ele percebeu: os impactos mais profundos não são os que a gente prevê.
O que parecia uma história sobre “economia digital” virou, na prática, uma história sobre atenção, emoções, identidade, política — tudo mediado por telas.
Isso vale hoje para IA generativa, para os “wearables” com assistente pessoal, e, como ele cita, empresas vendendo IA-companheira para você “nunca mais se sentir sozinho”. Psicólogos já observam adolescentes buscando em chatbots de IA uma espécie de amizade ou apoio emocional e discutem como equilibrar isso com vínculos reais.
Ceticismo tecnológico, nessa perspectiva, não é ser contra a tecnologia — é se recusar a ser um fã-clube dela.
No livro The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, que no Brasil foi publicado como Geração Superficial – O que a internet está fazendo com nossos cérebros, Nicholas Carr defende uma tese incômoda: usar intensamente a internet altera nossos circuitos mentais, favorecendo atenção fragmentada em vez de concentração profunda. Ele se apoia em estudos da neuroplasticidade e comparação entre cérebros de grandes leitores e usuários intensos de internet.
A experiência pessoal dele é a de muita gente: alguém que sempre leu livros longos, de repente incapaz de sustentar foco por alguns parágrafos sem checar e-mail, clicar em links, abrir novas abas. A internet “treina” nosso cérebro para:
buscar estímulos constantes,
preferir novidade à profundidade,
pular de assunto em assunto.
Isso é similar a você?
Isso não quer dizer que o cérebro “estraga”. Quer dizer que ele se adapta ao ambiente cognitivo que criamos. Se o ambiente é feito de notificações, feeds infinitos e recompensas imediatas, não dá para esperar que nossa mente se comporte como se estivesse numa biblioteca silenciosa lá do século XIX.
Essa tese aparece também em debates recentes sobre a “crise da atenção”: estudos mostram quase todos os adolescentes usando internet diariamente e quase metade dizendo estar “quase sempre” online.
No Brasil, dados do IBGE indicam que 88% das pessoas com 10 anos ou mais usaram internet em 2023, e o uso cresce justamente entre idosos — sinal de que a cultura da conexão permanente deixou há muito de ser “coisa de jovem”.
Em adolescentes brasileiros, um estudo de 2019 identificou quase 6 horas diárias de uso de smartphone em dias de semana entre estudantes, com associações a sintomas de dependência e piora de bem-estar.
Em paralelo, crianças cada vez menores entram nesse ecossistema: entre 2015 e 2024, a proporção de lares brasileiros em que crianças de 0 a 2 anos usam internet saltou de 9% para 44%. Entre 6 e 8 anos, chegou a 82%.
Não é apenas o tempo de tela que preocupa, mas o tipo de atenção que estamos ensinando desde cedo.
Fotografia
Tom Jobim
Eu, você, nós dois
Aqui neste terraço à beira-mar
O sol já vai caindo e o seu olhar
Parece acompanhar a cor do mar
Você tem que ir embora
A tarde cai
Em cores se desfaz,
Escureceu
O sol caiu no mar
E aquela luz
Lá em baixo se acendeu…
Você e eu
Eu, você, nós dois
Sozinhos neste bar à meia-luz
E uma grande lua saiu do mar
Parece que este bar já vai fechar
E há sempre uma canção
Para contar
Aquela velha história
De um desejo
Que todas as canções
Têm pra contar
E veio aquele beijo
Aquele beijo
Aquele beijo
Meu Deus… deixa eu recuperar o fôlego… Você está ouvindo Tom Jobim e Elis Regina com uma faixa do álbum clássico Elis & Tom: Fotografia.
“Fotografia” é quase um anti-Instagram em forma de bossa nova.
Tom Jobim congela um instante: o mar parado, o encontro que poderia ser eterno se o tempo colaborasse. É a fotografia como milagre – um clique que guarda afeto, silêncio, cheiro de maresia, tudo aquilo que não cabe num filtro.
A gente fez o caminho inverso. Hoje a foto não é mais registro de um momento vivido, é produto de um momento fabricado. Você não tira a foto porque está feliz; você performa uma felicidade para ter a foto. A imagem deixa de ser memória e vira vitrine.
Colocar “Fotografia” neste episódio aqui sobre ceticismo tecnológico, provoca um contraste bonito: de um lado, a imagem que tenta salvar o real da passagem do tempo; do outro, a avalanche de imagens que soterram o real numa encenação permanente. Tom Jobim canta um instante que existiu. O feed nos serve instantes que nunca chegaram a existir de verdade.
Olha, é muito fácil achar que esse debate começou com Instagram. Não começou não.
Em 1840, o telégrafo foi a primeira tecnologia a permitir que a informação viajasse mais rápido que pessoas e cartas. Isso gerou fascínio quase religioso: a sensação de que o “espírito” humano podia se desprender do corpo e circular como uma corrente elétrica. Empresas, governos, igrejas viam o telégrafo como um presente de Deus e um caminho para a paz mundial.
Um pouco depois, cientistas como Nikola Tesla e inventores como Marconi acreditavam que a comunicação sem fio tornaria a guerra obsoleta: se podemos falar com qualquer um, por que vamos brigar? Tesla imaginava um planeta conectado por um “sistema mundial” capaz de “aniquilar a distância” e garantir relações amistosas entre nações.
Que lindo, né? A gente sabe como a história terminou.
O rádio foi usado intensamente na Primeira Guerra, acelerando decisões, mobilização de tropas e propaganda. Em vez de esfriar conflitos, a comunicação instantânea ajudou a esquentá-los.
Isso antecipa a tese central de Carr: mais comunicação não significa, automaticamente, mais compreensão.
Na prática, pode significar mais mal-entendidos, mais pressa, mais medo, mais escalada de conflito.
“Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gustavo, de Taiwan.
Caramba, Luciano. Que porrada esse Café Brasil 1000, hein? De verdade, eu não esperava sentir tudo isso. Quando começaram as músicas, foi… Como entrar no túnel do tempo, assim. Vieram lembranças, cheiros, pessoas, momentos.
E eu aqui, tão longe do Brasil, morando em Taiwan, no meio de uma cultura que não tem nada a ver com a nossa. Que todo mundo se parece mais, vive parecido, fala parecido. Isso me lembra o quanto nós no Brasil somos únicos, sabe?
Uma mistura linda de gente, de história, de sotaques, de culturas. E mesmo com tanta diferença, a sensação é de família. Sabe o que pega mais? Daqui de longe, a gente acaba ouvindo muita notícia. E quase sempre é o Brasil dividido, é o Brasil brigando. O Brasil que esquece de olhar para o que tem de igual.
Só que eu vi nesse episódio, voltou aquele sentimento bom. Aquele… Cara, a gente é mais do que isso, sabe? Como você disse, quando a gente se junta, não tem que segure.
Esse episódio não só me lembrou disso, ele me fez sentir. A música faz isso, né? E vocês do Café Brasil fazem isso com um jeito que ninguém mais faz.
Obrigado demais. Luciano, Lalá, Cissa. Foi um abraço no coração. E olha, dá uma saudade danada de casa agora.”
Graaande Gustavo, lá de Taiwan! Meu caro, eu imagino a porrada que deve ter sido ouvir o episódio 1000 estando tão longe de casa. Aliás, imagino, nada. Não consigo nem compreender o impacto que um episódio como esse possa ter num expatriado. Deve ser um mix de emoções que, quem está aqui em casa, não consegue experimentar. Olha: muito obrigado pela sua mensagem viu? Pra nós aqui fazer o Café Brasil é uma tarefa do coração, e a gente fica feliz quando percebemos que atingimos nosso objetivo: chegar no coração de vocês. Grande abraço, meu caro!
O comentário do ouvinte é patrocinado pela Vinho 24 Horas.
Você já imaginou ter um negócio que trabalha por você… enquanto você está dormindo, cara?
Pois é. A Vinho24h faz exatamente isso.
Uma adega autônoma que você instala num condomínio — sem funcionário, sem dor de cabeça — e que entrega vinhos top, na temperatura certa, 24 horas por dia.
Quem compra sai feliz… e você vê o lucro crescendo pelo celular, com margem de até 80% por venda.
E o melhor: o investimento é micro — só R$ 32.900, parcelados, que voltam rapidinho, em até 14 meses.
A franquia cuida de tudo: instalação, manutenção, reposição de estoque… até da comunicação, com uma tela de mídia integrada pra anúncios locais — ou seja, mais renda pra você.
E tem mimo pro ouvinte, viu? Se você disser que conheceu a Vinho24h pelo Café Brasil, ganha 100 garrafas no primeiro estoque, cara.
Isso mesmo — cem garrafas, cinco mil reais de faturamento inicial, como um brinde!
Mas corre, viu? Porque essa promoção é pra quem chegar primeiro.
Acesse vinho24h.com.br e transforme a sua paixão por vinhos num negócio
Antes da internet virar esse monstrinho que mora no bolso da gente, dois caras já estavam gritando “Ei, presta atenção!”. E não eram velhos rabugentos reclamando de novidade não. Eram pensadores vendo, com antecedência, o que estava para acontecer.
Neil Postman, por exemplo. Lá em 1985, quando videocassete ainda era tecnologia de ponta, lançou um livro com um título que já dizia tudo: Amusing Ourselves to Death — algo como “Nos divertindo até morrer”.
A tese dele era simples e ao mesmo tempo desconfortável: a TV transformou tudo em show. Política? Show. Religião? Show. Jornalismo? Show. Educação? Show. Não importava mais o valor da ideia — importava a performance. O brilho, o carão, a maquiagem. O espetáculo.
Sete anos depois, em outro livro. Technopoly, Postman aperta o parafuso: a tecnologia deixou de ser ferramenta e virou chefe. Em vez de usarmos a tecnologia, passamos a obedecê-la. Ela dita como medimos sucesso, como aprendemos, como trabalhamos, como nos organizamos.
É a tecnopólia: uma cultura onde a tecnologia não ajuda — ela manda.
E o mais irônico? Postman escreveu tudo isso antes das redes sociais existirem.
Mesmo assim, ele praticamente descreveu aquilo que a gente vive hoje: um mundo onde a lógica do entretenimento, da aparência e do “dado” controla tudo. Onde vale menos o que você é e mais como você parece.
Agora pula para o ano 2000. Robert Putnam lança Bowling Alone e mostra que os americanos começaram a abandonar clubes, igrejas, associações, grupos de bairro — exatamente aquelas coisas que criam laços reais.
E por quê? Porque a TV virou companhia. Em vez de estar na praça, as pessoas ficaram no sofá. Sozinhas.
Agora, corta para hoje: a tela não está mais na sala. Ela está grudada na tua mão. Se a TV conseguia te tirar da rua, o smartphone tira você do mundo inteiro.
E aí vem Nicholas Carr trazendo outro conceito que é uma pedrada: “dissimilarity cascades” — cascatas de dessemelhança.
Um grupo de psicólogos liderados por Michael Norton investigou como a gente percebe outras pessoas quando começa a saber mais sobre elas.
O que você imaginaria que acontece hein?
Que, quanto mais eu conheço alguém, mais simpatia, mais afinidade, mais conexão, certo? Errado.
A pesquisa mostrou exatamente o contrário.
À medida que descobrimos mais sobre alguém, tendemos a focar muito mais nas diferenças do que nas semelhanças.
Basta um detalhe — uma opinião política, religião, time de futebol, banda favorita — para que nosso cérebro diga: “Ah, então você não é como eu.”
E aí, pronto: a primeira diferença acende todas as outras. É a tal “cascata”. Você passa a encaixar o outro na categoria “outro time”, “outro grupo”, “não é dos meus”.
Agora junta isso com redes sociais. As plataformas querem que você poste tudo. Não é devagar não, é muito rápido. Não é profundo, é chamativo.
E cada detalhe vira uma etiqueta: bio, hashtag, bandeirinha, causa, trauma, posicionamento. O “eu” vira uma embalagem.
Em vez de encontrar o humano cheio de nuances, a gente encontra pacotinhos fáceis de rotular — e de rejeitar.
Carr diz que isso não é acidente não: as redes são projetadas para isso. Engajamento vem de conflito, não de entendimento. Quanto mais rotulamos, mais brigamos. Quanto mais brigamos, mais tempo de tela. Quanto mais tempo de tela, mais dinheiro pra plataforma.
Do ponto de vista psicológico, é um prato cheio para as cascatas de dessemelhança: quanto mais eu sei superficialmente sobre você, mais fácil te odiar sem nunca ter te visto.
Deixa eu repetir aqui, porque isso aí merece eco: Quanto mais sei superficialmente sobre você, mais fácil te odiar sem nunca ter te encontrado.
E depois a gente se pergunta por que todo mundo anda tão irritado, dividido, “cancelando” meio mundo…
Outro ponto importante do Carr: o que acontece com o nosso eu quando a nossa principal forma de existir vira a interface digital.
As redes trabalham com listas, campos, categorias. Para sermos “legíveis” pelo algoritmo — e pelos outros — somos empurrados a:
- definir quem somos em 160 caracteres;
- transformar preferências em identidades fixas;
- medir nossa importância por likes, views, comentários.
Aos poucos, deixamos de ser pessoas e viramos marcas. Não “sou” alguém: gerencio uma “versão de mim mesmo”.
Pesquisadores já notaram isso: na internet, estamos sempre um pouco famosos. Sempre posando. Sempre imaginando a plateia invisível avaliando cada gesto. E isso muda tudo — especialmente a intimidade.
Na vida real, a abertura acontece em camadas:
Primeiro o básico.
Depois a história.
Depois, com muita confiança, a vulnerabilidade.
No online, essa lógica é invertida.
O que dá atenção é o choque, a confissão, o drama, a ferida aberta. A plataforma recompensa quem se despe rápido — mesmo que ninguém ofereça apoio real.
Só que quanto maior a exposição e menor o suporte, maior o custo emocional. O corpo sente. A mente sente.
E se você tenta desaparecer um pouco? No digital, sumir é morrer. Ficar em silêncio é perder relevância.
Ao contrário da vida real — onde você pode simplesmente compartilhar o silêncio com alguém — aqui calar é deixar de existir no feed.
E aí, meu caro: é assim que a tecnologia vai moldando não só o que fazemos, mas quem somos. Ou quem achamos que deveríamos ser, para agradar máquinas que nem sabem que a gente existe.
Muito bem: se você é assinante do Café Brasil agora vem o conteúdo extra. Eu vou falar sobe adolescentes, solidão e as novas “amizades” com algoritmos. Porque uma geração inteira está preferindo conversar com telas — e o que isso revela sobre nós.
Se você não é assinante, perdeu… mas não fique ansioso não. Acesse mundocafebrasil.com e torne-se um assinante.
Você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento.
A Terra oferece métodos exclusivos para gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a Terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer! A Terra executa junto com você!
E se você não é do ramo e está interessado em investir no Agro, a Terra ajuda a apontar qual a atividade melhor se encaixa no que você quer.
Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a Terra Desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável.
Há 25 anos colocando a inteligência a serviço do agro.
Se juntarmos esses pontos ao contexto brasileiro, o quadro fica ainda mais grave:
Quase 9 em cada 10 brasileiros com 10 anos ou mais usam internet.
Crianças de 0 a 2 anos já estão online em 44% dos lares conectados, e mais de 80% entre 6 e 8 anos.
Adolescentes relatam uso médio de quase 6 horas diárias de smartphone em dias úteis.
Ou seja: a geração que está crescendo agora não lembra como era o mundo antes do celular morar no bolso. E nós, adultos, ainda estamos tateando para entender o impacto disso.
Não por acaso, o movimento de restringir smartphones em escolas ganha força aqui e lá fora. Países como França, Austrália e outros, também vêm impondo limites semelhantes, citando preocupações com bullying, ansiedade, déficit de atenção e queda de desempenho acadêmico.
Nicholas Carr é honesto: mesmo sabendo de tudo isso, ele próprio não conseguiu “virar um monge digital”.
Ele usa smartphone, depende da internet para trabalhar, continua sujeito aos mesmos mecanismos de sedução que qualquer um.
Isso é importante: não existe posição moral superior baseada no “eu larguei tudo”. A questão não é demonizar a tecnologia, mas torná-la objeto de escolha, não de automatismo.
Alguns princípios práticos emergem tanto da fala de Carr quanto da literatura científica:
Engenheiros de produto foram treinados por décadas para eliminar o atrito: tudo tem que ser fácil, instantâneo, automático. Só que o atrito, a fricção é aliada da consciência. Pesquisadores e filósofos da tecnologia propõem o conceito de desenho friccional: colocar “lombadas” no fluxo — atrasos, confirmações, limites de repost, interrupções deliberadas — para desacelerar reações impulsivas.
Para indivíduos, isso significa criar fricção manual:
– deixar o celular em outro cômodo na hora de ler ou de escrever;
– desligar notificações;
– tirar apps viciantes da tela principal;
– reduzir o número de vezes por dia em que se abre redes sociais.
Cara, os dados são claros: quando perguntados, muitos adolescentes ainda dizem se sentir mais conectados em interações presenciais.
Só que o hábito empurra na direção contrária. Isso significa que adultos — pais, professores, líderes — precisam deliberadamente criar espaços offline: almoço sem celular, sala de aula sem tela, encontros em que olhar no olho seja a regra e não a exceção.
Criança não precisa de “marca pessoal” nem de comentários de desconhecidos sobre sua aparência, talento ou dor. A mistura de exposição precoce, métricas públicas de popularidade e modelos influenciadores – que vivem de se mostrar o tempo todo – coloca peso demais em estruturas emocionais em formação.
Não adianta só dizer “use menos o celular”. É preciso ensinar como perceber sinais de ansiedade, compulsão, dependência; entender que algoritmo não é “neutro”, ele é desenhado para capturar atenção; distinguir entre conversa humana imperfeita e uma interação com IA feita para agradar; desconfiar de qualquer plataforma que transforma todas as relações em números.
Cara, aprender o ceticismo nutritivo, não o apocalipse.
Chegamos no momento do nosso merchan. Eu sempre lembro que o Café Brasil é uma produção independente, que precisa da participação ativa dos ouvintes.
Se você acha que esse conteúdo aqui merece ser divulgado, merece ir pra mais gente, cara, entre no jogo conosco. Torne-se um assinante do Café Brasil.
Acesse: mundocafebrasil.com. Escolha seu plano, torne-se um assinante. Participe ativamente da produção deste conteúdo aqui que vai fazer a cabeça de muita gente.
Vem: mundocafebrasil.com.
A crítica de Carr, Postman, Putnam e companhia não é apocalipse — é chamado à responsabilidade. Responsabilidade pessoal para cuidar da própria atenção e dos vínculos. Responsabilidade coletiva para que escolas, empresas e governos criem limites, principalmente para crianças. E responsabilidade cultural para parar de aplaudir qualquer novidade tecnológica como se fosse inevitável e sempre boa. A pergunta permanece: quem ganha com isso? Quem perde?
A história é velha: do telégrafo à IA-companheira, toda nova tecnologia promete aproximar pessoas e democratizar tudo, e até cumpre parte disso. Mas, lá no subsolo, reorganiza nossa forma de pensar, de amar, de brigar, de decidir. Resultado: mais conectados e mais desconfiados, mais informados e mais distraídos, mais expostos e mais solitários.
Carr, Postman e Putnam não mandam ninguém voltar pra caverna. Dizem algo mais adulto: se você não pensa sobre a tecnologia, ela pensa por você. Pensar é reconhecer impactos na atenção, na memória, nas relações; é entender polarização, vigilância, economia da atenção; é decidir conscientemente como e quando se conectar. Não dá para desinventar o smartphone — mas dá para escolher se você será usuário… ou usado.
No fim, o ceticismo tecnológico é só isso: um gesto de cuidado com a mente, com os vínculos e com a nossa vida interior — aquilo que nenhuma plataforma consegue fabricar.
A Different Corner
George Michael
I’d say love was a magical thing
I’d say love would keep us from pain
Had i been there
Had i been there
I would promise you all of my life
But to lose you would cut like a knife
So i don’t dare
No i don’t dare
‘cause i’ve never come close
In all of these years
You are the only one to stop my tears
And i’m so scared
I’m so scared
Take me back in time
Maybe i can forget
Turn a different corner
And we never would have met
Would you care?
I don’t understand it
For you it’s a breeze
Little by little
You’ve brought me to my knees
Don’t you care?
No i’ve never come close
In all of these years
You are the only one to stop my tears
I’m so scared of this love
And if all that there is
Is this fear of being used
I should go back to being lonely and confused
If i could, i would, i swear
Uma esquina diferente
Eu diria que o amor é uma coisa mágica
Eu diria que o amor nos poupa da dor
De estar aqui
De estar aqui
Eu te prometeria toda minha vida
Mas te perder me cortaria como um punhal
Então eu não me atrevo
Não, não me atrevo
Porque eu nunca estive perto
Em todos esses anos
Você é a única que pára minhas lágrimas
E eu tenho tanto medo
Tenho tanto medo
Me leve de volta no tempo
Para talvez esquecer
E dobrar uma esquina diferente
Onde nunca nos conheceriámos
Você se importaria?
Eu não entendo
Para você é uma brisa
Pouco a pouco
Você me deixou de joelhos
Não se importa?
Não, eu nunca cheguei perto
Em todos esses anos
Você é a única que pára minhas lágrimas
Tenho tanto medo desse amor
E tudo o que eu tenho
É esse medo de ser usado
Deveria voltar e ficar sozinho e confuso
Se eu pudesse, eu voltaria, eu juro.
Olha que delícia, cara: você está ouvindo A Different Corner, Uma Esquina Diferente, com George Michael, que canta assim: “Leve-me de volta no tempo, talvez eu consiga esquecer… Se você tivesse virado outra esquina, nós nunca teríamos nos encontrado.”
É um pedido de pausa, um medo de ser ferido, um reconhecimento de que sentimentos reais são frágeis. Essa canção é perfeita para contrastar com a falsa intimidade das telas.
Sabe o que mais me impressiona nesse nosso mergulho no mundo digital?
É perceber como as relações, que sempre foram feitas de sutilezas — de hesitação, de silêncio, de vulnerabilidade — viraram processos de “usuários e interface”.
A gente foi trocando o encontro pelo cálculo, o olhar pelo emoji, a dúvida honesta pelo rótulo rápido.
E, sem perceber, começamos a acreditar que vínculos humanos podem ser substituídos por algoritmos que simulam afeto… mas que não sentem nada.
Só que o coração não funciona assim.
Coração precisa de atrito, de tempo, de imperfeição.
Coração precisa daquela esquina errada onde você encontra alguém por acaso. Do risco. Do medo de perder. Da beleza do que não estava planejado.
E é essa fragilidade — essa incerteza — que torna um encontro de verdade.
Lembre-se então: na livrariacafebrasil temos mais de 15 mil títulos muito especiais, para quem quer conteúdo que preste! Inclusive o meu novo livro Liderança Nutritiva, que complementa este episódio aqui. mundocafebrasil.com.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lalá Moreira na técnica, Ciça Camargo na produção e, é claro, você aí, que completa o ciclo.
De onde veio este programa tem muito, muito muito, mas muito mais. E se você gosta do podcast, imagine uma palestra ao vivo.
Se você gosta de conversa, participe do nosso MLA – Master Life Administration. Um encontro de pessoas interessadas em se ver, se olhar, se tocar, em relações reais e não só em troca de mensagens e zap, sabe? Vai lá: mundocafebrasil.com. Tem tudo lá pra você entender como funciona.
Mande um comentário de voz pelo WhatSapp no 11 96429 4746. E também estamos no Telegram, com o grupo Café Brasil.
Para terminar, a frase Neil Postman:
“A tecnologia dá e a tecnologia tira. O truque é lembrar do que ela tirou.”